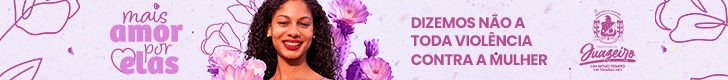Europa busca se reconciliar com seu violento século XX
Historiadores e antropólogos estudam e comparam como países como Espanha, Polônia e Bósnia encaram seu passado, num ambicioso projeto promovido pela Comissão Europeia

O que têm em comum os restos de fuzilados depois da Guerra Civil Espanholaexumados há alguns anos no cemitério de Guadalajara, as fossas de guerrilheiros anticomunistas dos anos quarenta no cemitério militar de Powazki, em Varsóvia, e as valas que guardaram os corpos das vítimas civis do massacre de Srebrenica, na Bósnia, nos anos noventa? A resposta é que, quando um país tem que enfrentar a memória de um passado violento, se torna inevitável encarar a espinhosa decisão sobre o que fazer com as valas comuns, provavelmente seu sinal mais tangível. “Mesmo não fazer nada já é uma decisão”, explica de forma quase aforística o antropólogo Francisco Ferrándiz, do Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) da Espanha, que acaba de escrever, em parceria com a professora Marije Hristova, da Universidade de Warwick (Reino Unido), um artigo sobre como essa conflitiva lembrança é tratada nos três países. Ou seja, entre os inflamados debates públicos a respeito do rastro franquista na Espanha, a instrumentalização institucional da resistência anticomunista na Polônia e a feridas que ainda supuram na Bósnia, por mais que lhe sejam aplicadas receitas de justiça internacional e direitos humanos.
“Na Espanha não somos uns loucos por discutirmos estes temas, nós fazemos parte de um processo global”, acrescenta Ferrándiz. De fato, seu artigo —a ser incluído no livro Repensar el Pasado: La Memoria (Trans)Cultural Europea, que a editora Dykinson está prestes a publicar na Espanha— é só o mais recente entre todos os estudos já feitos sobre o tema no âmbito de um projeto de pesquisa muito mais amplo, financiado pela Comissão Europeia com quase 2,5 milhões de euros (10,8 milhões de reais). Nele, cerca de 20 historiadores, antropólogos e cientistas políticos de seis universidades e centros de estudos de vários países procuram, analisando as valas comuns e outras expressões, como os museus de guerra, uma alternativa teórica e prática capaz, conforme contam os promotores do projeto, de rebater as crescentes “concepções políticas e identitárias combativas e antagônicas frente às quais a memória cultural europeia às vezes parece impotente”. Ou seja, memórias baseadas mais no mito do que na busca pela verdade, e que exacerbam os sentimentos ultranacionalistas, de heróis e demônios sem nuances.
Esta última forma de olhar ao passado é a que os teóricos chamam de antagônica, a mais básica, que parecia ter ficado num plano secundário desde que, após a queda do Muro de Berlim, em 1989, outro modelo se tornou dominante: mais analítico e, de alguma forma, mais administrativo, surgido da reflexão sobre o Holocausto, baseado nos direitos humanos e nos princípios de verdade, justiça, reparação e garantia de não repetição, com as vítimas no centro de tudo. “Mas depois de todas as comissões da verdade, de todas as resoluções da ONU, dos tribunais internacionais, ocorre que estamos voltando às novas formas de fascismo, a novos antagonismos muito primários”, aponta Ferrándiz, tentando explicar a perplexidade por trás do projeto. A iniciativa surgiu em 2016 e termina neste ano, sob o nome UNREST, que em inglês significa agitação, mas que neste caso também equivale à sigla inglesa para Memória Perturbadora e Coesão Social na Europa Transnacional.
“A Europa necessita finalmente fazer as pazes com seu passado violento”, diz a antropóloga social Elisabeth Anstett, do conselho consultivo do UNREST. Essa especialista da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS), em Paris, explica que se trata de construir “espaços sociais, culturais, pedagógicos” onde seja possível a análise crítica. Porque, alerta, nestes tempos de notícias falsas e ressurgimento de velhos extremismos, “não há muita gente com acesso a fatos documentados, em vez de apenas opiniões e sentimentos pessoais ou coletivos”.

Para Stefan Berger, professor de História Social da Universidade do Ruhr, em Bochum, na Alemanha, mais do que fazer as pazes a Europa precisa “enfrentar de uma forma mais sincera o seu passado violento”. Berger, pesquisador-chefe do UNREST, opina que o modelo cosmopolita acabou despolitizando os processos em torno da memória, e que voltar a colocá-los na discussão política é imprescindível para enfrentar os novos desafios.
O ponto de partida do projeto foi a criação de uma espécie de terceira via teórica, que chamaram de agonística, e que consiste em “aumentar a qualidade democrática de maneira que possam coexistir, sempre dentro dos limites legais e de respeito, diferentes memórias em mesmo ambiente”, explica Ferrándiz. “E queríamos estudar também se isso pode ser uma solução para a Europa em médio prazo”, acrescenta.
A partir daí, ele e sua equipe escolheram três países com contextos muito diferentes —um de uma guerra civil anterior à Segunda Guerra Mundial, outro vinculado a esta e um terceiro de guerra de implosão mais recente de um Estado— para estudar que tipo de memória predomina em cada um. E a primeira coisa que destacam é que “os discursos abstratos globais aterrissam de maneira diferente em cada país”.
Por exemplo, na Polônia, “o cosmopolitismo é uma forma de disfarçar seu antagonismo”. Ou seja, que sob um discurso de direitos humanos, justiça e reparação, são deixadas de lado algumas vítimas —as do Holocausto e as comunistas— para se concentrar em outras, nos “soldados malditos”, um grupo paramilitar que em 1945 seguiu na luta contra o comunismo. A professora Hristova explica que o partido no poder —Lei e Justiça (PiS), liderado por Jaroslaw Kaczynski— construiu a partir desse grupo uma espécie de “mito fundador do anticomunismo”, convertendo em heróis alguns que o foram realmente, “como Witold Pilecki (que foi para Auschwitz voluntariamente para obter informações e criar uma resistência de dentro), mas também criminosos de guerra como Józef Kuras, responsável pela morte de muitos eslovacos, judeus e lemkos”. Não restam muitos descendentes dos soldados malditos, mas alguns deles se manifestaram contra a instrumentalização de sua memória, acrescenta a pesquisadora.

Na Bósnia, dão o exemplo da forte polêmica que causou em 2011 a construção de uma igreja ortodoxa a poucos metros das sepulturas das vítimas exumadas em uma das 14 valas comuns onde os sérvios enterraram os corpos do massacre de Srebrenica, no qual cerca de 8.000 muçulmanos morreram em 1995. O exemplo é usado para explicar como, apesar de todo o processo ter sido feito sob o guarda-chuva da ONU, através do tribunal internacional da antiga Iugoslávia que condenou os autores, e com atos de reparação, a prática continua sendo muito antagônica no nível dos Governos locais e municípios.
Na Espanha, por último, falam de um movimento social e associativo que, desde o ano 2000 e depois de duas décadas do pacto da Transição, pressionou até conseguir uma lei de memória histórica com financiamento e continuou a fazê-lo sem ajuda nos momentos em que o apoio institucional escasseou, como no caso das exumações de 50 corpos de fuzilados durante a Guerra Civil no cemitério de Guadalajara entre 2016 e 2017. No entanto, apesar dos intensos debates que a memória histórica provoca na Espanha, Ferrándiz e seus colegas concluem que existe “uma convivência de modelos com maior força do cosmopolitismo, inclusive, com o discurso da Transição, do esquecimento consciente”.
Nos próximos meses, o projeto UNREST irá elaborar suas conclusões finais. Por enquanto, Ferrándiz avança as suas: “Na Europa contemporânea não existe um problema de memória, mas muitos, e as manifestações são múltiplas e cambiantes. É por isso que precisamos de novos modelos para entender e lidar com isso”. Sua proposta, acrescenta, encontrou dificuldades, em relação aos limites da liberdade de expressão ou o que fazer com a voz dos perpetradores, entre outros. “Estamos indicando o caminho, mas é preciso continuar estudando”. Mas não é só isso: “Todo esse conhecimento teórico deve ser traduzido em políticas públicas que estimulem debates mais abertos, mais sofisticados”, dentro de um contexto de mensagens que explicam a realidade com poucos matizes. “Quando as instituições nos chamam, nós sempre vamos. Não temos a razão, mas podemos diagnosticar problemas”, acrescenta.