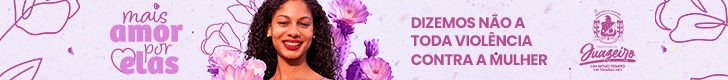Futebol e poder, o jogo do século
Ensaio do jornalista Mickaël Correia rastreia as tensões históricas que cercaram esse esporte, usado com fins políticos do anticolonialismo à Primavera Árabe, tanto pelas elites quanto pelo povo

Quando os homens marcharam para o front da Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a jogar futebol. Especialmente a partir de 1916, as trabalhadoras que fabricavam armamento fundaram times nas fábricas: cerca de 50 na França e mais de 150 na Inglaterra. Na Espanha, neutra, também surgiu um punhado. Enquanto a guerra avançava, houve tempo inclusive para a criação das primeiras estrelas inglesas, uma evolução que culminou em um acontecimento que levou quase um século para se repetir.
Depois do armistício, no boxing day de 1920 (26 de dezembro), 53.000 espectadores lotaram o Goodison Park, em Liverpool, para ver um jogo entre o Dick Kerr’s Ladies e o St Helen’s Ladies. Um ano depois dessa exibição, a federação inglesa proibiu o futebol feminino.
Baseou-se em supostos relatórios médicos que diziam que o esporte prejudicava o aparelho reprodutor das mulheres. Com a guerra terminada e os sobreviventes de volta, era necessário repovoar o país. “Já não se tinha de fazer o papel do homem na fábrica, mas se esforçar em casa e ter filhos”, diz o jornalista francês Mickaël Correia (Tourcoing, 1983), que em Una Historia Popular del Fútbol traça um panorama das relações entre esse esporte, o poder e os diversos movimentos de emancipação eresistência do último século e meio, do anticolonialismo à Primavera Árabe. Correia relaciona aquela primeira explosão fugaz do futebol jogado por mulheres com a luta das sufragistas, que naqueles anos eram presas às centenas na Inglaterra: “Foi também a primeira onda do feminismo. As fundadoras desses primeiros times já diziam: “Somos feministas”, lembra.
A proibição foi levantada em 1971, no calor da que poderia ser considerada como segunda onda, a derivada de Maio 68. A mais recente explosão do futebol feminino –mais de 60.000 espectadores no Wanda Metropolitano e quase 50.000 em San Mamés há poucos meses–, é simultânea à terceira onda, impulsionada pelo movimento Me Too.
BARÇA: NEGÓCIO E REFERÊNCIA DA LUTA PALESTINA

O mesmo futebol, o mesmo espetáculo, o mesmo clube, pode funcionar sem problemas em extremos aparentemente irreconciliáveis, como o negócio extremo e uma luta pela emancipação. O jornalista Mickaël Correia aponta para essa ambivalência no Barcelona: “Um clube que é uma das maiores expressões do negócio do futebol, mas que também tem um valor político. O time favorito na Palestina é o Barcelona, porque eles veem um clube lutando contra o Estado centralizador. O futebol pode estar nas piores lógicas mercantis e também ser um catalisador político. Pode ser um alto-falante muito poderoso. 10.000 pessoas que cantam, uma faixa, são ferramentas políticas muito poderosas”, diz.
Criação aristocrática
Ao futebol sempre se encontrou utilidade política, tanto desde cima quanto desde baixo. “Quando nasceu, em meados do século XIX, é porque a aristocracia codificou o jogo. Para eles, o futebol era um modelo com o qual aprender os valores da Revolução Industrial. Queriam inculcar o futebol nos trabalhadores como ferramenta de controle social, para ensinar-lhes a divisão do trabalho: cada um tem seu lugar no campo, como na empresa. E isso logo se voltou contra os patrões, porque o futebol ajudou essa gente, que vinha de um êxodo rural, a nutrir a consciência do povo”, explica Correia.
Aconteceu com aquelas primeiras mulheres: as empresas lhes propuseram praticar esportes para distraí-las de possíveis queixas e isso acabou alimentando um feminismo embrionário. A relação entre o momento político e a ascensão do futebol feminino também foi apreciada na Espanha durante a Segunda República, quando não era estranho ler crônicas esportivas sobre os jogos femininos.
Existem muitos mais casos. Aconteceu, por exemplo, na URSS, onde havia uma paisagem de clubes criados por diferentes ramos da polícia e do Exército e o Spartak de Moscou tornou-se o “time do povo”, abrigando certo grau de resistência amparado por suas frequentes vitórias ante o sistema. Odiado pelas autoridades estatais, Nikolai Starostin, o mais velho de quatro irmãos que impulsionaram o clube, passou anos em um gulag. O Spartak desagradava Lavrenti Beria, chefe da polícia secreta e presidente do Dínamo, perdedor habitual.
O franquismo também soube reconhecer o poder de propaganda dos esportes de massa, enquanto tolerava nos estádios o que não permitia fora. “Em Barcelona, o Camp Nou era um lugar onde a resistência cultural continuava falando catalão e onde circulavam senyeras [bandeiras da Catalunha] e panfletos políticos”, diz Correia.
E antes de Franco, Benito Mussolini, que conseguiu que a Itália organizasse, e ganhasse, a segunda edição da Copa do Mundo em 1934. De acordo com Correia, o ditador “viu no estádio e no futebol uma maneira perfeita para colocar no palco o homem como algo novo e para inculcar essas mensagens e galvanizar as massas. Mas nesses países em que a reunião de três pessoas se tornava algo suspeito, o estádio permitia o anonimato. Quando alguém gritava contra certos times, também o fazia contra o poder”.
Também aconteceu mais recentemente, como na revolução egípcia de 2011, em que a vanguarda dos protestos vinha das arquibancadas dos estádios. “Os fãs de futebol eram o único grupo que havia escapado ao poder e havia tido choques com a polícia. Cantaram, criaram slogans contra o poder e organizaram a juventude. A ocupação da Praça Tahrir foi possível graças aos torcedores, que sabiam se defender contra a polícia e ensinaram os manifestantes a agir contra ela”, explica Correia.
Esquemas semelhantes foram vistos durante a Primavera Árabe na Tunísia, e atualmente na Argélia: as canções dos protestos vêm dos coros dos campos, onde há mais de 10 anos a arquibancada enfrenta o poder em um campo no qual o poder decidiu tolerá-la, como se fosse uma explosão controlada por um especialista em explosivos.
Violência e desemprego
Algumas das batalhas amadurecidas no calor do futebol não aconteceram muito longe dos estádios. Os anos sessenta terminaram na Inglaterra com a desindustrialização, que jogou no desemprego milhares de jovens das docas fechadas. “Esses jovens proletários, filhos de operários, quiseram voltar a ser uma comunidade, como seus pais. Chegaram a resgatar a antiga indumentária dos operários: as Doc Martens, que eram as botas das docas.
As arquibancadas se tornaram seu novo território, um território para ser defendido, algo que chegou ao extremo com o surgimento dos skinheads. E quando se fala de identidade e território, isso dá lugar à violência”.
Os hooligans marcaram durante décadas a história do futebol inglês, punido com a proibição de sair das ilhas depois da tragédia de Heysel, em 1985 [39 mortos antes da final da Copa da Europa entre Liverpool e Juventus]. Quando voltaram à Europa, cinco anos depois, o futebol já apertava o acelerador da mercantilização. Mas esse movimento desde cima também tem seu contrapeso desde baixo. As grandes marcas abraçaram o jogo de rua para suas promoções. “A indústria precisa ir às ruas ou estar na rua para voltar a se legitimar. A rua é o campo de batalha atual”, acrescenta Correia.