 ‘Beleza’ se escreve no feminino, lembra Bernuzzi, mas ao longo do tempo homens também foram moldados por diferentes padrões estéticos
‘Beleza’ se escreve no feminino, lembra Bernuzzi, mas ao longo do tempo homens também foram moldados por diferentes padrões estéticosEsportes não são recomendáveis a senhoras que passaram dos 30 por serem um risco à saúde e uma “indecência”. Leques são itens essenciais ao flerte. A tristeza pode ter origem no fígado.
Estas afirmações podem soar absurdas para você, internauta do século 21, mas representam crenças sociais sobre a beleza e as emoções comuns no início do século passado.
Entender como atributos aparentemente inquestionáveis como feio, bonito, alegre, triste, gordo e magro foram construídos no último século faz parte do trabalho de Denise Bernuzzi de Sant’Anna, uma “historiadora das emoções” que dá aulas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e se prepara para lançar um novo livro, dessa vez sobre sentimentos tristes e depressão.
“No passado, as experiências tristes tinham nomes diversos e podiam ser males da alma, do espírito ou às vezes até do próprio corpo, como a ideia de uma bile (fluido produzido pelo fígado) amarga”, explicou a historiadora em entrevista à BBC News Brasil por telefone.
“Nos anos 1910, 1920, havia remédios, como o veronal, que buscavam tratar de sentimentos tristes que teriam origem em um problema físico, como no fígado ou estômago, uma tradição que remonta à Grécia Antiga.”
“Ou, no Brasil, até um problema de nutrição, como raquitismo ou anemia. O Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato, uma figura magra, desnutrida, apática, representa isso. Com isso, vem toda a propaganda da época de fortificantes, como o Biotônico Fontoura. E, com Getúlio Vargas, a construção da nação é atrelada a produção de um brasileiro – especialmente crianças – forte, robusto e, sobretudo, alegre.”

As coisas começam a mudar, no Brasil e no mundo, após a Segunda Guerra, quando começam a surgir medicamentos antidepressivos e manuais de psiquiatria.
Estes manuais tiveram como marco inicial uma publicação de 1952 da Associação Americana de Psiquiatria (APA), que desde então ganhou diversas versões. Elas trazem classificações de distúrbios mentais e seus sintomas, e sua influência foi desde estatísticas governamentais a planos de saúde.
Mas estas publicações também são cercadas de críticas: em 2013, quando a quinta e mais recente versão da APA foi lançada, e alguns psiquiatras denunciaram que os manuais estaria transformando em doenças comportamentos até agora considerados comuns.
Bernuzzi diz que historicamente os textos passaram a tratar de como estados emocionais como tédio, timidez, mal estar, luto ou desilusões amorosas podem eventualmente ser classificadas como transtornos, medicalizados e relacionados a um fundo fisiológico.
‘Males do espírito’ em baixa
Só que agora, vinculados a uma outra parte do corpo.
“O cérebro virou um fato social, ganhou uma centralidade nas nossas preocupações com a saúde. Na nossa rotina, discutimos os elementos bioquímicos do cérebro: serotonina, endorfina…”, exemplifica a historiadora.
“Há uma disputa aí, porque por muitos séculos, estes males eram coisas da alma. E a alma tem qualquer coisa de sobrenatural. Hoje, as moléculas e os neurônios superaram a ideia dos males do espírito. Vivemos uma era muito mais materialista nesse aspecto.”
“Isso tem uma relação forte com o declínio da transcendência: mesmo nas igrejas evangélicas, que crescem muito hoje, a ênfase na vida atual (em contraposição a outros planos) é muito forte. A gente tende a fazer mais jejuns do corpo do que da alma.”

Uma consequência “terrível” deste novo cenário é, para a pesquisadora, uma “intolerância muito maior à tristeza”.
“Ela se tornou mais intolerável porque nós a desnaturalizamos. À medida que a tristeza vira uma doença, um distúrbio, um desequilíbrio, não só algo que simplesmente faz parte da vida, fica mais difícil aceitá-la.”
“Você vê por algumas palavras que desapareceram, o que indica uma experiência que não existe mais. Uma delas é o ‘resguardo’, fase pela qual as mulheres passavam quando tinham filhos. Elas ficavam isoladas, eram alimentadas com canja por 20 dias, algumas tampavam o ouvido para não ouvir barulhos.”
“Não tem ‘resguardo’ hoje. Nós eliminamos cada vez mais da nossa vida espaços que consideramos altamente entediantes, improdutivos, até doentios.”
Mas esta não pode ser uma leitura saudosista? Bernuzzi diz “insistir” em destacar que, entre passado ou presente, não há algum cenário que seja melhor: o interessante é perceber o que mudou.
 ‘Não tem ‘resguardo’ hoje. Nós eliminamos cada vez mais da nossa vida espaços que consideramos altamente entediantes, improdutivos, até doentios’, diz pesquisadora sobre antigo hábito do puerpério
‘Não tem ‘resguardo’ hoje. Nós eliminamos cada vez mais da nossa vida espaços que consideramos altamente entediantes, improdutivos, até doentios’, diz pesquisadora sobre antigo hábito do puerpérioO que é bonito?
Outro conceito que mudou radicalmente no último século foi o de beleza, tema de estudo de Bernuzzi em seu doutorado na Universidade Paris VII, na França. A pesquisa resultou anos depois no livro a História da Beleza no Brasil (Editora Contexto, 2014).
Como em boa parte de seu trabalho, a historiadora se baseou em publicações na imprensa, propagandas e documentos da área médica, como teses e boletins.
Isso, ela reconhece, acaba refletindo na predominância da história de certos grupos sociais em detrimento de outros, como os indígenas “exterminados”. Assim, há tradições que acabam não capturadas: “Um grande desafio do historiador é fazer história dessas populações que não tiveram voz.”
Bernuzzi destaca que, do início do século até hoje, houve uma transição do corpo como pertencente a uma comunidade – “ficando, assim, dependente da aprovação desta” – para uma propriedade mais individual.
No Brasil do final do século 19 e início do 20, por exemplo, um elogio importantíssimo era ser “elegante” – o que se refletia, entre a população abastada, no uso de produtos e roupas rebuscadas, como itens comprados em São Paulo na Casa Garraux, que importava de Paris pós de arroz, águas de colônia e perfumes.
Mas, no cenário tropical, a importação destes hábitos não era perfeita: vestidos com cauda ficavam sujos com facilidade e levavam para dentro de casa a poeira das ruas das cidades que efervesciam; penteados complicados duravam pouco e o pó de arroz podia se tornar uma pasta com o calor.
Falando no calor, outro item essencial naquele tempo eram os leques, mas sua função ia muito além de refrescar.
“Saber usar um leque implicava conhecer os significados e os poderes dos gestos de abri-los e fechá-los. Havia significados distintos para leques fechados, abanados rapidamente ou lentamente. Equipamento essencial ao flerte, o seu desuso representou o esquecimento de um meio de comunicação”, diz a historiadora no livro.
 Ilustrações da era vitoriana da série ‘The society war game’ (1884) refletem a importância, na virada para o século passado, do leque
Ilustrações da era vitoriana da série ‘The society war game’ (1884) refletem a importância, na virada para o século passado, do lequeBernuzzi mostra também como episódios históricos expressam noções de beleza, como a proclamação da República, consolidada em 1989. A elite monarquista, que ficava para trás, era simbolizada pela velhice e era conquistada pela mocidade republicana.
Um trecho de Ordem e progresso, de Gilberto Freyre (1900-1987), reproduzido no livro de Bernuzzi, diz que o período imperial havia morrido “sob as barbas brancas e nunca maculadas pela pintura do imperador D. Pedro 2º, ao passo que, em seu lugar, resplandeciam as barbas escuras dos jovens lideres republicanos, ávidos do poder”.
Lembra até acontecimentos recentes da política brasileira, em que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) se viu rachado entre os “cabeças brancas”, nomes mais antigos e tradicionais da sigla; e os “cabeças pretas”, a ala mais jovem e fonte de uma proposta de novos rumos para o partido.
Influência americana
Com o passar das décadas, a influência dos Estados Unidos na economia, política e cultura se reflete também nos ideais estéticos, inclusive no Brasil. Isso se consolida na década de 50, com o chamado american way of life – o “estilo de vida americano”, que se pauta em um discurso meritocrático, visando a qualidade de vida e abundância material.
A beleza, que sempre se escreveu no feminino, lembra Bernuzzi, indicando como atributo. O tema foi predominantemente relacionado às mulheres e ganhou novos modelos também para os homens.
As guerras mundiais catapultam o modelo viril dos soldados e o tórax forte como atributo desejável.
Mas não é que antes não houvesse tendências de beleza para eles. O Brasil do início do século 20, por exemplo, tinha um ícone do dandismo para chamar de seu, o pintor e fotógrafo Ernesto Quissak (1891-1960).
Um dândi se vestia de maneira ousada e cheia de personalidade: a forma encontrada por jovens boêmios e românticos para se opor à predominância do ideal requintado da burguesia.
 Jovens boêmios e românticos levaram à frente o estilo dândi
Jovens boêmios e românticos levaram à frente o estilo dândiDécadas depois vieram outras chacoalhadas nas definições de feminino e masculino, como as trazidas pela contracultura das décadas de 60 e 70 e pelo rock’n’roll. Gestos, roupas e adereços até então mais associados às mulheres foram potencializados por estrelas como os músicos David Bowie e Freddie Mercury; e no Brasil, Ney Matogrosso, exemplifica Bernuzzi.
A contracultura, na verdade, foi um marco para todos. Até para as grávidas.
“A barriga grávida não era uma imagem valorizada. Isso muda com a contracultura, os movimentos de aceitação do próprio corpo, o feminismo. No Brasil, Leila Diniz foi um marco”, aponta Bernuzzi, lembrando da atriz cuja imagem na praia, não só preterindo o maiô ao biquini – ainda em processo de aceitação –, como também grávida, se tornou icônica.
O cenário da foto da década de 70, o mar do Rio de Janeiro, expressava também o protagonismo da capital fluminense como centro irradiador de modas para todo o país, entre elas, o uso de tangas.
As musas da literatura
Cabelos molhados, soltos, às vezes cheios, assim como corpos pouco cobertos, ganharam brilho nesse contexto de liberação corporal, o que, para Bernuzzi, vai ao encontro de um ideal particularmente brasileiro de beleza.
“Temos esse mito de uma beleza natural muito forte, como se a mulher brasileira fosse um retrato de sua natureza: selvagem, indomável. A literatura alimenta isso, com mitos fundadores como Iracema, lábios de mel”, diz a historiadora, fazendo referência à personagem título de romance homônimo de José de Alencar (1829-1877), descrita por ele como “a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira.”
A pesquisadora já mapeou outros símbolos, na arte brasileira, de ícones e expressões da beleza ao longo da história.
Guta, adolescente e uma das protagonistas do romance As três Marias, de Rachel de Queiroz (1910-2003), simbolizou a repressão das famílias, no início do século passado, diante de novidades como usar maquiagem ou fazer penteados ousados. Guta tinha truques com as amigas para burlar as regras, como enrolar a saia comprida na altura da cintura para mostrar as pernas na saída da escola.
Beatriz, personagem de Jorge Amado (1912-2001) em Tereza Batista cansada de guerra, escandalizou sua vizinha por fazer cirurgias plásticas, algo ainda novo naquele tempo. Ao rejuvenescer o rosto e os seios, se tornou a “glorificação ambulante da medicina moderna”, nas palavras do autor.
Jacira, mote do impiedoso título do conto Feia demais, de Nelson Rodrigues (1912-1980), explicita o tratamento hoje escandaramente cruel às mulheres consideradas feias. Rodrigues conta a história de um rapaz “bem apanhado”, que se apaixonou por uma mulher “feiíssima”, “um bucho horroroso”. Depois de casados, ele se arrependeu de tê-lo feito após vê-la diante do espelho.
Na verdade, a exigência de beleza revela como, neste campo, há uma “aliança nem sempre visível” entre prazeres e sofrimentos, direitos e deveres, como aponta a historiadora.
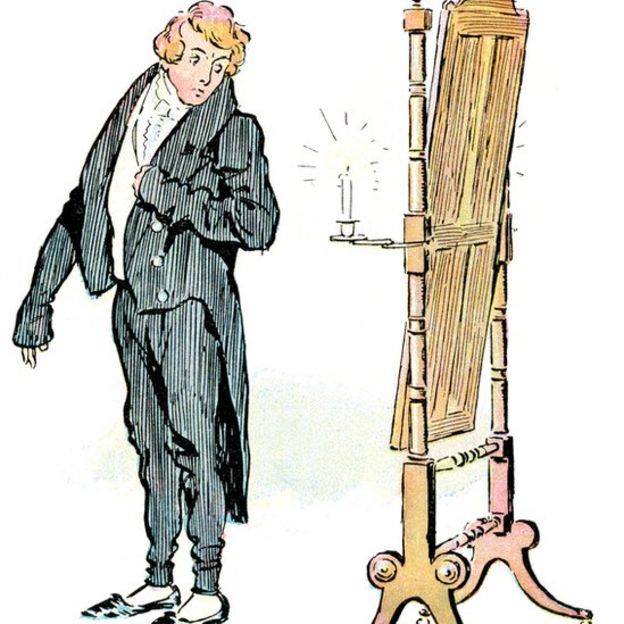
‘Perseguição especular’
Hoje é difícil imaginar, por exemplo, como seria um mundo sem espelhos ou tantas imagens nas telas – e sem a pressão que eles fazem.
“As pessoas não se viam tanto em outros séculos, não havia espelho em toda parte, essa perseguição especular. Nos anos 1910, 1920, espelhos eram caros, ainda mais de corpo inteiro. As elites tinham no guarda-roupa.”
“O hábito de se olhar em espelhos maiores dentro de casa se banaliza mesmo depois dos anos 70.”
A multiplicação de imagens também pressiona para que toda imagem do ser humano seja fotogênica – mesmo que venha de dentro do corpo.
“Mesmo sendo um feto na barriga, tem que ser algo que já nos dê uma sensação boa. Não vou dizer bonito, mas tem que ser harmonioso.”
“Um outro exemplo disso [da pressão sobre toda parte do corpo] são os mamilos nas [revistas] Playboys. Até um certo ponto, os seios das mulheres são os mais diversos. Depois, inclusive por causa da cirurgia estética, há uma padronização nos anos 90, 2000. Há a exigência de uma fotogenia estandarte.”
“Como se não bastasse, há uma cobrança às vezes nas partes internas do corpo, como a que motiva cirurgias estéticas ginecológicas.”

No Brasil, a adesão às cirurgias plásticas vai muito além deste procedimento. Somos o segundo país do mundo no volume de cirurgias estéticas (1,4 milhão em 2017), pouco atrás dos Estados Unidos (1,5 milhão).
Segundo a historiadora, no país, artigos na imprensa já anunciavam nomes de cirurgiões e financiamentos para operações na década de 60 e 70, mas foi só nos anos 80 que a prática foi impulsionada.
É uma ascensão associada à “globalização” da publicidade de corpos jovens e longilíneos e à criação da medicina estética inicialmente na França e nos EUA.
“E o Brasil tem uma certa facilidade em aceitar novas tecnologias. Isso em todos os meios, inclusive o médico. Na França, as pessoas fazem cirurgia plástica também, mas há um nível de precaução maior, como com a anestesia geral. A grande preocupação aqui no Brasil é se vai ficar bom.”
“A nossa intolerância à idade é muito grande. Somos um país jovem. A disputa no mercado amoroso, no mercado de trabalho, é muito mais cruel.”

























