O inesperado remédio desenterrado na Ilha de Páscoa que cada vez salva mais vidas pelo mundo
Dalia Ventura

Onde uma história começa?
Esta, dado que se trata de algo que veio do solo de um dos lugares mais remotos do planeta, talvez deva começar com a erupção de três grandes vulcões localizados no sul do Oceano Pacífico. Eles foram responsáveis por formar uma ilha de 163,6 km² que, exceto numa área menos fértil, é formada de lava com uma fina camada de solo.
Ou, de repente, o início desta história deveria ser um sonho. Aquele em que um espírito viajou em busca de um novo lar para o lendário schefe supremo “Hotu Matu” e o seu povo, e encontrou um triângulo com um olho (a cratera de um vulcão) chamado “Te Pito ‘o el Kainga“, que significa “Centro da Terra”.
Depois de enviar 7 homens para buscá-lo e receber, na volta, a notícia de que se tratava de um paraíso distante, Hotu Matuꞌa zarpou com dois navios cheios de colonos. A civilização que prosperou, criou belezas e enigmas naquele terreno de lava entre as ondas ficou conhecida como Rapa Nui ou Ilha de Páscoa.
Mas talvez seja mais apropriado começar esta história com a curiosidade despertada em um cientista, centenas de anos depois. Ele ficou intrigado pelo fato de os nativos da ilha não terem tétano, apesar de caminharem descalços por um terreno cheio de cavalos, em condições ideais para se infectarem.
É por isso que o microbiologista Georges Nógrády, um dos 40 médicos e cientistas que chegaram do Canadá em dezembro de 1964 para estudar a cultura, o ambiente e as doenças deste lugar excepcional, dividiu a ilha em 67 partes e colheu amostras de solo de cada uma delas.
Ele só encontrou esporos de tétano em uma das amostras. Os frascos com pedaços do território de Raisin felizmente chegaram às mãos de cientistas da empresa farmacêutica Ayerst em 1969.
“Atividade fantástica”
Para Ajai Sehgal, diretor de dados e análises da Clínica Mayo, a história começou quando ele era criança.
“Quando eu tinha cerca de 10 anos, fui com meu pai ao trabalho, no laboratório Ayerst em Montreal e fiz perguntas”, disse ele à BBC News Mundo. “Eu não tinha base para entender tudo, mas sabia que ele estava interessado na descoberta de drogas e entendia o que estava tentando fazer.”
O que o pai dele, o microbiologista Surendra Nath Sehgal, e seus colegas estavam tentando e conseguindo fazer era isolar os microorganismos do solo da Ilha de Páscoa, induzindo-os a se reproduzirem e analisando as substâncias que eles produziam.

Eles descobriram que eram muito bons em inibir o crescimento de fungos, mas havia um problema.
“Também era um imunossupressor, por isso deixava a parte do corpo tratada sem defesas. Imagine que você tem uma infecção fúngica na mão e aplica um creme de rapamicina: ele mata o fungo, mas provavelmente vai causar uma infecção bacteriana”, explica Ajai.
No entanto, Sehgal enxergou o potencial daquilo.
“Ele sabia que tinha uma atividade imunossupressora muito forte e também que era uma droga muito segura porque não tinha nenhum nível tóxico.
“Quer dizer: normalmente o que você faz é dar a um camundongo cada vez mais doses da droga até que ele morra, e assim eles encontram o nível máximo de segurança. Mas, no caso da rapamicina, eles nunca encontraram um nível tóxico porque os ratos nunca morreram “, esclarece Ajai.
Naquela época, os imunossupressores disponíveis “eram todos altamente tóxicos”. Um deles, a bactéria Streptomyces hygroscopicus, produziu um composto, um produto natural isolado em 1972 chamado rapamicina, em homenagem a Rapa Nui, nome dado à Ilha de Páscoa por seus indígenas.
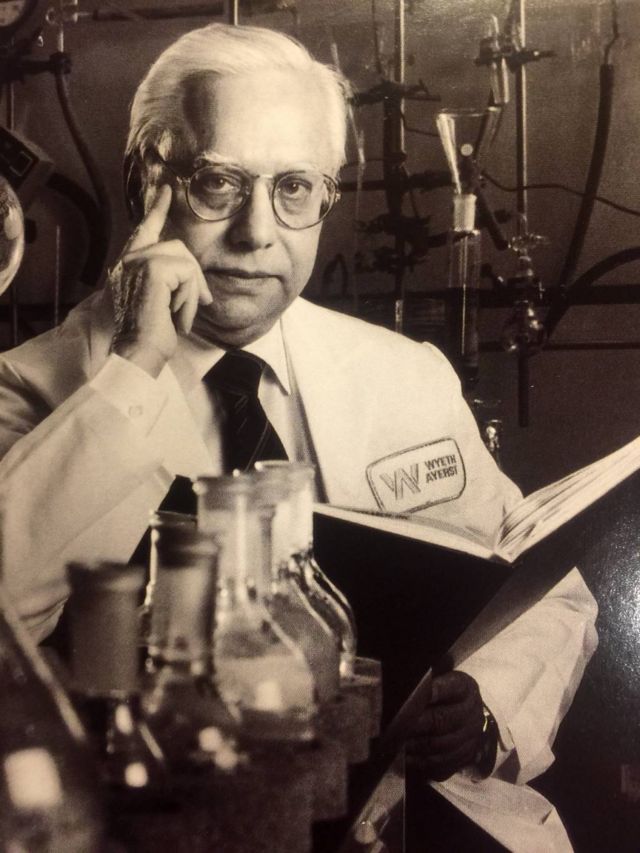
Além disso, embora pareça contraditório que algo que impede uma defesa contra tumores possa ser uma provável droga anticâncer, Sehgal observou que esse composto parecia possuir novas propriedades, pois poderia impedir a multiplicação das células.
Em uma época em que todas as quimioterapias matavam as células vivas, ter algo assim poderia ser muito benéfico.
Sehgal enviou uma amostra do composto para o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (CIN, por sua sigla em inglês), onde eles observaram que ele tinha uma “atividade fantástica” contra tumores sólidos.
O trabalho nessa direção estava produzindo resultados promissores quando foi interrompido abruptamente.
Desobediente
Em 1982, a Ayerst decidiu fechar seu laboratório de pesquisa em Montreal e transferir alguns de seus cientistas para suas instalações em Princeton, em New Jersey, Estados Unidos.
O doutor Sehgal foi um deles, mas a rapamicina não teve a mesma sorte.
Era simplesmente uma questão de negócios. A empresa não via um futuro lucrativo para ela como medicamento e então decidiu encerrar o projeto.
A ordem era desfazer tudo, arquivar e esquecer.
“Meu pai fez o oposto”, lembra Ajai.
Sabendo que o fechamento das instalações em Montreal significava que ele não teria acesso aos fermentadores em grande escala necessários para produzir rapamicina, Sehgal preparou um lote para levar a Princeton.
“Ele colocou em pequenos potes de vidro, os levou para casa e colocou no freezer da minha mãe, marcado com um rótulo que dizia: NÃO COMA, pois parecia sorvete.”

Ajai soube da travessura do pai quando foi ajudar a fazer as malas para a mudança para Princeton e foi encarregado de garantir que sua preciosa (e clandestina) carga chegasse em segurança à nova casa.
“Eu tinha 20 anos e era oficial das Forças Armadas canadenses na época. Mas fiz aquilo pelo meu pai. Coloquei tudo em um pote de sorvete, comprei gelo seco porque tivemos que desligar o freezer para colocar no caminhão de lixo. Lacrei tudo com fita isolante e fiz furos porque quando o gelo seco derrete cria dióxido de carbono, e eu não queria que se tornasse uma bomba.”
O plano funcionou.
“O congelador chegou ao porão da nova casa, em Princeton, sem explodir e com todas as amostras intactas, e elas permaneceram lá por cerca de 5 anos.”
Um novo começo
No final da década de 1980, os transplantes de órgãos não eram mais ficção científica. Mas o grande obstáculo ainda era o sistema imunológico, que se ativava e atacava a parte estranha do corpo, colocando em risco a vida dos pacientes devido à rejeição.
Era necessário um imunossupressor. Mas você se lembra que os aprovados eram perigosos e pouco eficazes?
A essa altura, a empresa para a qual Sehgal trabalhava havia mudado e ele levou aos novos gerentes da agora chamada Wyeth-Ayerst a ideia de testar se a rapamicina poderia ser a solução para os transplantes.

Do ponto de vista do farmacêutico, era hora de ressuscitar o projeto: havia muito ouro no final daquele arco-íris.
“‘Mas eles disseram: ‘como você continuará seu trabalho se todas as amostras foram destruídas?’. ‘Talvez não'”, respondeu ele.
“Na época, ele não tinha ideia se as amostras que estavam no freezer ainda estavam vivas e se ele poderia fazer mais rapamicina com elas: é como fermento para fazer pão, ou a cultura inicial para iogurte. No laboratório, ele verificou que haviam sobrevivido. A partir do que meu pai guardou, novos lotes foram criados para fazer os estudos”, lembra Ajai.
Como se fosse pouco…
Depois de tantos anos acreditando no projeto, mas sem poder colocá-lo em prática, Sehgal finalmente teve, em 1987, os meios para trazer de volta à luz o que havia sido desenterrado na Ilha de Páscoa.
Após vários estudos clínicos bem-sucedidos, em 1999 o Comitê Consultivo da FDA fez uma recomendação unânime para a aprovação do Rapamune, o imunossupressor desenvolvido por Sehgal e sua equipe, que resultou em ganhos multimilionários à Wyeth-Ayerst e, desde 2009, à Pfizer.
Mas Sehgal não queria apenas desenvolver o potencial da rapamicina como um fármaco.
Ele convenceu o CIN a reativar suas pesquisas sobre seu efeito em tumores malignos e queria entender como funcionava. Por que a rapamicina ‘congelava o tempo’ onde tocava?
Com essa finalidade, Sehgal enviou amostras e informações do composto a diversos centros de estudos.
O agora biólogo Daniel Sabatini, que em 1992 estava fazendo seu doutorado em medicina e filosofia, encontrou um desses pacotes de Sehgal com um recado que dizia: “Boa sorte!”
E Sabatini certamente a teve.
“Ele descobriu o mecanismo de ação da droga: como ela funciona”, conta Ajai.
Os esforços para entender isso levaram Sabatini e outros cientistas a identificarem de forma independente uma proteína conhecida como mTOR, revelando aspectos fundamentais sobre nossa natureza biológica.
Mas o que é isso
“Imagine um canteiro de obras. O empreiteiro geral é o encarregado de dizer aos encanadores, carpinteiros, eletricistas, pedreiros etc. o que fazer. Se houver tijolos e argamassa suficientes, ele ordena que as paredes sejam erguidas. Se os canos não chegarem até amanhã, ele manda os encanadores pararem de trabalhar. O mTOR faz isso para a célula”, exemplifica Ajai.
“É um sensor. Ele detecta se há nutrientes e diz à célula para crescer ou não crescer.”
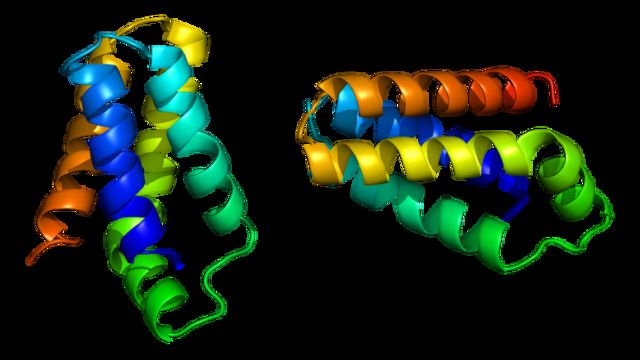
É um indicador fundamental: se, por exemplo, a divisão celular começa sem os níveis ideais de aminoácidos, glicose, insulina, leptina e oxigênio para alimentar o processo, a célula morre em vez de se multiplicar.
O que a rapamicina faz é induzir as células do corpo a pensar que há poucos nutrientes mesmo quando tem bastante, paralisando o crescimento.
E o que os cientistas estão começando a entender é que essa não é a única coisa que acontece.
Voltando ao canteiro de obras, enquanto você trabalha, tem pedaços aqui, entulho ali. Mas se tiver que suspender tudo repentinamente por falta de materiais, a empreiteira vai mandar os operários limparem e organizarem a obra até eles chegarem.
Acontece que, quando a rapamicina engana o mTOR, ela faz o mesmo com as células: diz a elas para se limparem, já que elas acumulam depósitos de resíduos que não eliminam e com o tempo as tornam menos eficientes.
Isso é basicamente envelhecer.
“A célula se limpa e se repara porque pensa que não será reabastecida”, diz Ajai.
O que aconteceu com o pai de Ajai?
Sehgal recebeu a admiração do mundo médico e os agradecimentos de milhões a quem a rapamicina proporcionou uma vida mais longa.
Ele aprendeu sobre o mTOR e a resposta que o intrigava: por que congelava o tempo. Mas ele não sabia sobre a limpeza celular que ela promove. Mas, mesmo assim, foi um pioneiro.
De certa forma, Sehgal fez com o próprio corpo o que muitos pesquisadores fariam, e continuam fazendo, com animais em laboratórios.
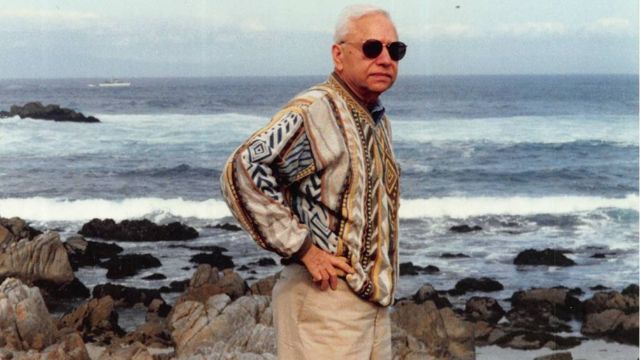
Em 1998, ele foi diagnosticado com câncer de cólon metastático em estágio 4 após uma colonoscopia de rotina.
“Depois do primeiro ano de quimioterapia, que ele não conseguia mais tolerar. O câncer o estava matando. Então, ele decidiu parar e começar a tomar rapamicina.”
“Ele sabia que suprimia tumores. O tumor é uma célula nociva que cresce fora de controle e a rapamicina impede isso. Ele estava fazendo experiências em si mesmo, mas deram-lhe apenas seis meses de vida, então ele não poderia tornar a situação muito pior”, ressalta o filho.
“Ele melhorou. Na verdade, ele viveu uma vida boa por 4 anos, conheceu os netos e eles o conheceram. E um dia, numa viagem à Índia para dar palestras, ele disse para minha mãe: ‘Eu me sinto bem, mas eu nunca saberei se a rapamicina está me mantendo vivo, a menos que eu pare de tomá-la.’ E foi o que ele fez.”
“Em questão de 6 meses, o câncer tomou o corpo dele inteiro e isso foi tudo. Acabou. Em seu leito de morte, ele me disse: ‘A coisa mais estúpida que fiz foi parar de tomar meu remédio’. Mas essa era a natureza dele. Ele era um cientista e precisava saber.”
“Além disso, ele estava tentando convencer outras pessoas a iniciarem ensaios clínicos contra o câncer e estava animado, basicamente por causa do que fez. Porque ele documentou tudo e assim foi.”
“Ele trabalhou até o fim. Um dia antes de morrer, ele estava escrevendo um artigo na cama defendendo as propriedades antitumorais da rapamicina.”
Seghal morreu no dia 21 de janeiro de 2003.
Os usos da rapamicina continuam se multiplicando, como imunossupressor e para tratamento de diferentes tipos de câncer e outras doenças. No momento, dezenas de estudos também estão em andamento para explorar seu potencial para diminuir as consequências negativas do envelhecimento.




























