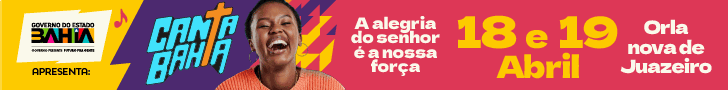Uma viagem ao pedaço da Amazônia onde se fala japonês

As frases, ditas pelo engenheiro florestal japonês Noboru Sakaguchi, apontavam a saída para a catástrofe que havia se abatido sobre seus conterrâneos em Tomé-Açu, no interior do Pará.
Uma praga nos anos 1970 dizimou as plantações das famílias japonesas que haviam formado, naquele pedaço da Amazônia, a então terceira maior colônia nipônica no Brasil.
Foi quando Sakaguchi, na época diretor da cooperativa dos agricultores locais, pregou uma mudança radical: em vez de cultivar uma só espécie, eles deveriam se espelhar na diversidade da Floresta Amazônica.
E deveriam aprender com vizinhos que estavam em Tomé-Açu há mais tempo do que eles: os ribeirinhos.
“Ele (Sakaguchi) via o ribeirinho produzindo com harmonia”, conta à BBC News Brasil o agricultor Michinori Konagano, membro da colônia e um dos principais discípulos do ex-diretor da cooperativa.
Konagano, de 65 anos, é um dos 46 mil japoneses que migraram do Japão para o Pará entre 1952 e 1965. Ele veio com os pais, aos 2 anos de idade.
Da varanda espaçosa na fazenda onde Konagano recebeu a equipe da BBC News Brasil, sente-se o aroma agridoce do cacau em fermentação.
Guardadas em armazéns, as amêndoas de maior qualidade são exportadas para fábricas de chocolate no Japão.
A fazenda também produz, em 230 hectares de área cultivada, vários outros tipos de frutas, como açaí, cupuaçu e pitaya, além de madeira e óleos vegetais.

Se hoje Konagano convive com a abundância e sua propriedade é vista como referência na região, ele conta que, na infância, chegou a passar fome.
“Perguntava para minha mãe e meu pai: ‘por que tem tanta fartura na natureza, mas nosso quintal é pobre?'”, diz.
Na época, a família era adepta de outro modelo de produção, comum em grande parte da Amazônia: derrubar a floresta e cultivar um só tipo de alimento, em monocultura.
“Hoje, eu me sinto culpado por ter derrubado e queimado. A degradação foi muito grande naquela época”, lembra.

As coisas só começaram a mudar quando, guiada por Sakaguchi, o diretor da cooperativa, a família de Konagano adotou o novo modelo de produção inspirado nos ribeirinhos.
Segundo Konagano, Sakaguchi notou que os ribeirinhos tinham ao redor de suas casas árvores frutíferas de várias espécies que lhes davam colheitas ao longo do ano todo.
“Eles não tinham tanto recurso financeiro, mas tinham uma vida saudável”, diz Konagano.
As famílias japonesas começaram a testar esse modo de produção, em escala maior e de forma padronizada.
Nos campos de pimenta arrasados pela praga fusariose, espalharam árvores de grande porte e várias frutíferas, experimentando diferentes combinações.
Desde então, os campos abertos e degradados de suas fazendas voltaram a ter aspecto de floresta.
Animais que tinham sumido – como preguiças-reais, raposas e pacas – reapareceram.
E a comunidade, que antes dependia de um só produto, passou a ter várias fontes de receita.
Ao longo do processo, o grupo se tornou ainda um exemplo para pesquisadores e agricultores de vários países que buscam alternativas a métodos agrícolas convencionais e que buscam maneiras de gerar renda sem destruir a Amazônia

‘Era só mata’
O êxito do novo sistema fez Tomé-Açu recuperar parte da diversidade que tinha quando os primeiros japoneses chegaram ali.
“Era só mata”, lembra Hajime Yamada, última pessoa viva presente na primeira leva de imigrantes a aportar em Tomé-Açu.
Hoje com 96 anos, Yamada tinha 2 quando seus pais chegaram ao Brasil a bordo do navio Montevideo Maru, em 1929.
Yamada mora em uma imponente casa de madeira erguida nos tempos de bonança da pimenta-do-reino, nos anos 1950.
Na construção de dois andares, feita conforme antigas técnicas arquitetônicas japonesas, colunas e vigas são unidas por encaixes, e não há pregos nem parafusos.
Retratos de seus antepassados e quadros com ideogramas japoneses – condecorações recebidas por seu papel na comunidade – enfeitam as paredes da sala.

A primeira casa de Yamada em Tomé-Açu, no entanto, era bem diferente.
“Era uma barraca coberta de cavaco, piso de chão. Só tinha sala, não tinha quarto. Pobre mesmo”, descreve.
Yamada conta que a casa ficava no meio da floresta e recebia visitas de onças-pintadas, atraídas pelas galinhas criadas pela família.
Questionado se temia o felino, Yamada ri: “Eu tremia”.
Ele mostra a foto de uma onça abatida perto de sua casa por um caçador japonês.
“Essa chegou a atacar um senhor brasileiro e quase o matou”, lembra.
Yamada conta que seus pais eram camponeses da Província de Hiroshima e deixaram o Japão rumo ao Brasil em busca de uma vida melhor.
Desde 1895, os governos dos dois países tinham um acordo que estimulava a vinda de japoneses para o Brasil.
Com o pacto, o governo brasileiro buscava suprir a falta de trabalhadores rurais após a abolição da escravatura, em 1888.
Já o Japão queria aliviar tensões sociais causadas pela pobreza no campo.

Os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908 e se concentraram em São Paulo.
Foi então que o governador do Pará, Dionísio Bentes, pensou em atrair uma parte do grupo para seu Estado, interessado em desenvolver a agricultura local.
Ele ofereceu aos japoneses um lote de 600 mil hectares de floresta em Tomé-Açu e outros quatro lotes menores nos municípios de Monte Alegre e Marabá, que ficam a centenas de quilômetros de distância, em outros pontos do Estado.
As primeiras 43 famílias partiram do porto de Kobe, no centro do Japão, rumo ao Pará em 24 de julho de 1929.
A viagem até Tomé-Açu levou quase dois meses e teve baldeações no Rio de Janeiro e em Belém.
O trajeto entre a capital paraense e o destino final, hoje transposto em pouco mais de 3 horas por estradas asfaltadas, na época levava 12 horas e era todo percorrido por rios.
Cada família recebeu um lote de 25 hectares.
“A gente plantava muita verdura, mas o brasileiro não comia muita verdura naquela época”, lembra Yamada.
Segundo ele, o gosto nipônico por folhas era inclusive alvo de brincadeiras dos brasileiros, que comparavam os japoneses a bichos-preguiça.

A convivência amigável entre os grupos, porém, sofreu um abalo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando o Brasil declarou guerra aos países do Eixo (Japão, Itália e Alemanha) e impôs controles sobre imigrantes dos três países.
Em Tomé-Açu, os japoneses passaram a ser vigiados de perto pelas autoridades.
“Se polícia encontrava três japoneses conversando, eram presos. Encheram o xadrez”, diz Yamada.
Com o fim da guerra, as restrições se encerraram. Mas Yamada não conseguiu festejar por descobrir que, antes do fim do conflito, o Japão havia sofrido um ataque nuclear dos Estados Unidos.
Uma das duas bombas atômicas lançadas sobre o Japão destruiu a cidade natal de Yamada, Hiroshima.
“A bomba deixou muita gente doida por aqui”, lembra. “Se eu tivesse ficado lá, acho que teria morrido também.”
Ele conta que sua mãe chorou por vários dias ao saber do ataque contra a cidade.
O trauma da guerra, segundo ele, só foi superado nas décadas de 1950 e 1960 com a expansão das lavouras de pimenta-do-reino.
Foi quando as famílias puderam construir casas maiores, comprar caminhões e abrir comércios.
A riqueza atraiu para Tomé-Açu migrantes de vários Estados. Hoje, japoneses e seus descendentes são uma pequena parcela da população local de 67,5 mil habitantes.
Mas sinais de sua presença são notados em vários pontos, como no templo budista de Tomé-Açu, nos vários restaurantes japoneses da cidade e nos túmulos com ideogramas no cemitério.
A maior marca que os japoneses deixaram no município, no entanto, fica em sua zona rural e ganhou até uma sigla: o Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu (Safta).

‘Mottainai’
Em sua varanda perfumada pelo cacau em fermentação, Michinori Konagano diz que, ao desenvolverem o sistema, as famílias nipo-brasileiras também resgataram técnicas agrícolas ancestrais japonesas que estavam sendo abandonadas.
Para fertilizar suas agroflorestas, várias famílias recorrem à liteira da mata, composta por folhas, galhos e frutos em decomposição. Outras usam palha de arroz ou esterco de animais.
Os métodos eram comuns no Japão antes do advento da adubação química.
Como muitos agricultores de Tomé-Açu também dispensam agrotóxicos, boa parte da produção da comunidade é orgânica.
Konagano diz que as técnicas de adubação se relacionam com a expressão japonesa “mottainai” (勿体無い), que significa literalmente “que desperdício” e costuma ser direcionada a crianças que deixam um último grão de arroz no prato.
O conceito, no entanto, tem um sentido filosófico mais amplo e deriva de antigas crenças budistas.
Em entrevista à BBC em 2020, Tatsuo Nanai, diretor de uma ONG japonesa criada para divulgar a expressão, explica que o conceito “pode ser aplicado a tudo em nosso mundo físico” e supõe “que os objetos não existem isoladamente, mas estão conectados uns aos outros”.
Konagano diz que um dos exemplos da aplicação do conceito em sua fazenda se dá na colheita do cacau.
Em vez de levar o fruto inteiro para o armazém onde suas amêndoas são processadas, funcionários abrem o cacau assim que ele é colhido.
As sementes são separadas, e as cascas, lançadas ao pé das árvores, ajudando a fertilizar o solo.
Também são usados na adubação da fazenda resíduos de frutos processados. Nada se desperdiça.

Modelo em expansão
Para Osvaldo Kato, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, as agroflorestas geridas pelas famílias nipo-brasileiras de Tomé-Açu são o maior e mais bem-sucedido experimento econômico desse tipo no Brasil.
Natural de Tomé-Açu e neto de japoneses, Kato é agrônomo com doutorado em Agricultura Tropical pela Universidade de Göttingen, na Alemanha.
Na Embrapa desde 1979, ele tem se dedicado a pesquisar e difundir sistemas agroflorestais pelo Brasil.
Kato conta que, nos últimos anos, o método tem conquistado adeptos em diferentes partes do país, assim como em outras nações latino-americanas e africanas.
Ele lista, entre as vantagens econômicas do sistema, a diversificação das fontes de receita e a economia com insumos externos, como adubos e pesticidas.
Entre os benefícios ambientais, cita a capacidade de recuperar solos esgotados, a alta absorção de carbono nas lavouras e maior biodiversidade.
Kato afirma que muitas comunidades tradicionais e indígenas praticam variações desse método desde tempos imemoriais – caso, aliás, dos ribeirinhos que inspiraram os japoneses de Tomé-Açu.
Mas Kato diz que, nesses casos, as comunidades costumam usar técnicas agrícolas para manejar florestas.
Já os japoneses de Tomé-Açu fazem o contrário. “Eles são agricultores e trouxeram a floresta para dentro da agricultura”, diz.
Um exemplo dessa distinção é visual: nas agroflorestas de Tomé-Açu, os canteiros são plantados em linhas retas, e as plantas são posicionadas conforme padrões regulares.
Já nas agroflorestas de indígenas e ribeirinhos, roça e mata se misturam, e as intervenções humanas se destacam menos na paisagem.

Segundo o pesquisador, outro ponto que distingue Tomé-Açu de outras experiências em agrofloresta é a preponderância do fator econômico.
“Eles diversificaram a produção como estratégia econômica. Os ganhos ambientais foram uma consequência”, afirma.
Para ele, há um grande potencial de expansão desses métodos, principalmente entre agricultores familiares.
Os principais entraves, segundo ele, são tecnológicos: como ainda não há muitas máquinas adequadas a esse sistema, boa parte do trabalho tem de ser manual.
Outro desafio é replicar o sistema cooperativista de Tomé-Açu, que, segundo Kato, também foi fundamental para o sucesso da colônia.
A Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA) hoje tem 172 cooperados e outros 1,8 mil agricultores familiares cadastrados como fornecedores.
A cooperativa difunde as melhores práticas entre seus membros e mantém uma agroindústria, construída com um financiamento do governo japonês, para processar e embalar alimentos.

Desafios na sucessão
Mas, se há obstáculos à expansão do modelo de Tomé-Açu para outras regiões, a continuidade dos trabalhos nas fazendas de famílias nipo-brasileiras também enfrenta desafios.
Muitos filhos dos agricultores concluem os estudos em Belém e não voltam para Tomé-Açu.
Outros cursam faculdades em outras áreas, e há ainda os que resolvem migrar para o Japão, no caminho contrário ao dos antepassados.
É o caso de Jenifer Mineshita Miyagawa, de 26 anos. Nascida em Tomé-Açu, ela se formou em Biomedicina e planeja passar alguns anos trabalhando no Japão para juntar algum dinheiro.
Ela não tem qualquer interesse em assumir a fazenda da família, adepta do sistema agroflorestal.
Seu pai, o agricultor Tamó Mineshita, diz torcer para que algum de seus outros três filhos assuma a propriedade.
“Se não tiver sucessão, não tem jeito: é vender, arrumar outra profissão e ajudar os filhos naquilo que decidirem”, afirma.

Mas se as novas gerações nipo-brasileiras de Tomé-Açu não quiserem seguir os passos de pais e avós, a experiência da comunidade pode se perder? Quem cuidará do legado da colônia?
Michinori Konagano aponta possíveis saídas.
“Vejo uma imensidão de gente necessitando de comida. Por que não passar nosso conhecimento para todo mundo? Independente de ser da colônia japonesa ou não”, defende.
O agricultor tem posto a ideia em prática. Konagano diz já ter recebido centenas de pesquisadores e agricultores interessados em replicar seus métodos, e também viaja com frequência para dar palestras e oficinas.
Assim, ele espera que a sobrevivência do modelo criado pela comunidade não dependa de seus descendentes.
“Eu tenho esse olho puxado, mas me sinto mais brasileiro do que japonês.”